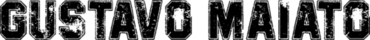O guitarrista brasileiro Gustavo Di Pádua é dono de uma extensa carreira e já tocou em bandas consagradas como Almah, Aquaria e Endless. Também atuou como músico contratado de grandes artistas como Erasmo Carlos e Kelly Key.
Conversei com Gustavo Di Pádua e falamos também sobre seu trabalho como artista solo, que inclui o aclamado disco “Tem Rock no Samba – Volume 1” (2022). O músico também revelou que está compondo mais um álbum instrumental, que deve sair em breve. Boa leitura!

Gustavo Maiato: Seu último álbum “Tem Rock no Samba – Volume 1” foi lançado agora em 2022. As pessoas estranharam juntar rock e samba? Como surgiu essa ideia?
Gustavo Di Pádua: Rola um choque inicial mesmo de como esses dois estilos podem coexistir. As pessoas ficam com curiosidade. Tem que ter ousadia para fazer essa mistura! Sempre gostei disso porque para mim a música tem que ser boa. Assim, consigo trazer ela para meu universo. Basicamente, trabalhei em cima dos grandes clássicos do samba. Músicas que considero ricas melodicamente. São músicas ricas para nossa história e aí resolvi levar para o rock.
Isso foi algo desafiador, mas tive um bom feedback! O primeiro vídeo que lancei do projeto gerou aqueles comentários tipo: “Caramba!”. A primeira que lancei foi um medley do Martinho da Vila com Zeca Pagodinho, com as músicas “Disritmia” e “Maneiras”. Esse tipo de samba acho bem legal, sabe?
Acabou ficando algo meio heavy metal! Todos se surpreenderam. Chocou tanto que passei a tocar essa música nos meus shows de rock. Toquei na Expo Music até uma vez. Resolvi então de tempos em tempos lançar outras músicas nessa pegada.
Comecei a ter contato mais aprofundado com o samba através da minha mulher. Sou do rock desde moleque, mas não tenho preconceito. Outra música que fiz foi a “Wave” do Tom Jobim, que ficou bem legal! Fiz até o Hino do Flamengo! [risos]. Essas coisas são muito estimulantes, porque são desafiadoras.
Gustavo Maiato: Qual foi a maior dificuldade nessa tradução do samba para o rock?
Gustavo Di Pádua: Não teve uma dificuldade, sabe? Foi tudo muito fluido. Precisei lidar com os cromatismos do samba. É uma linguagem diferente. Tem a escala menor harmônica, que é semelhante, mas com o violão de 7 cordas. Tem vários riffs porrada! Na minha versão, transformo o que seria o violão para a guitarra. Se tem groove, funciona. É legal isso de fazer uma coisa que é tão diferente, soar fluida.
Gustavo Maiato: E como se deu a escolha do repertório?
Gustavo Di Pádua: Comecei a falar com amigos e alunos! Surgiu a sugestão de fazer uma versão do Cartola! Fiz uma versão de “As Rosas Não Falam”. Até o roqueiro respeita! O samba clássico o pessoal respeita. O pagode tem gente que torce o nariz. No caso do sertanejo raiz, existe esse respeito também.
Ou seja, começou a pintar sugestão. Minha mulher e meu sogro ajudaram! Adoro fazer isso. Acabou tomando corpo rápido esse projeto. Foi aí que veio a ideia de lançar o álbum completo. O pessoal pedia uma playlist só com esse tipo de releitura. Foram várias músicas gravadas ao longo do tempo.
Depois de “Disritmia”, fiz a “Mais Que Nada”. Nessa coloquei uma guitarra de sete cordas. Não botei solo, para priorizar as percussões. Uma das coisas mais importantes da música para mim é a batida. Quando encontro a batida perfeita, isso me inspira muito!
Gustavo Maiato: Dá para dizer que terá um “Tem Rock no Samba – Volume 2”? Alguma música ficou de fora?
Gustavo Di Pádua: Teve sim! Fiz várias na sequência, como “Malandro”, “Não Deixe o Samba Morrer” e no final tinha umas 6 lançadas. O pessoal começou a cobrar para eu dar sequência. Só que faço várias coisas, então é difícil! A criatividade é para ser algo abençoado, mas é preciso cuidado para não perder o foco.
Ou seja, nunca fazia o álbum. Era um projeto, não tinha pretensão de virar álbum. Eu virei o “Cara do Tem Rock no Samba”. Foi um projeto que impactou quem gosta de samba e rock. Acham inusitado. Para mim, é motivo de orgulho. Sou brasileiro e fazer gente que nasceu agora conhecer os clássicos é importante.
Sempre trazia coisas do “Tem Rock No Samba” para meus shows regulares. Uma vez, em Rio das Ostras (RJ), estava tocando em um festival de jazz e o pessoal estava querendo ouvir meu álbum instrumental “The Stairs”. Aí, perguntei se alguém curtia samba. O pessoal disse que não, mas toquei de qualquer forma! Toquei e foi uma festa! O pessoal dançando no meio do palco! Até hoje acontece isso. O pessoal já vem com o preconceito.
Resolvi montar o show e aí precisei montar repertório. Sou muito rápido para fazer isso e compus um repertório enorme para um show de 2 horas! O primeiro show foi no Rio, no Calabouço. Foi demais lá! Comecei a fazer em eventos de Niterói também. Não era algo definitivo, mas comecei a organizar minha cabeça. Refleti e decidi definir o que tinha que fazer. Foi aí que veio o lance do álbum.
Isso foi no começo de dezembro. Perto do dia 2 de dezembro, que por acaso é o Dia Nacional do Samba. Resolvi lançar no carnaval, que era 1 de março. Esse não é meu projeto oficial desse ano, mas tinha que rolar naquela hora! Senão nunca ia conseguir dar sequência. Foi desafiador, tive pouco tempo! Em janeiro e fevereiro, estava calor para caramba, mas queria lançar no carnaval!
Aí, entrou um problema: cada música foi gravada em um período de forma diferente! Regravei e refiz uma coisa ou outra, mas mantive a estrutura. Tive uma ajuda de um grande amigo chamado Renato Brum, que costumava masterizar comigo. Ele me ensinou a masterizar! Esse álbum marcou o retorno desse meu amigo. Ele me ajudou a homogeneizar tudo. Temos uma sintonia legal. Foi gratificante. Sou perfeccionista, mas tinha prazo. Foi mais uma conquista. Realizar um projeto é muito gratificante.
Meu sonho seria fazer um feat com um desses caras! Imagina tocar com o Martinho da Vila? Ou então tocar as músicas do “Tem Rock No Samba” com uma escola de samba! Ou então chamar o Diogo Nogueira! Ele era meu amigaço de infância! Eu jogava bola na casa dele! O João Nogueira fazia churrasco e nós íamos! Seria um prazer”.
Gustavo Maiato: Por falar em metal e música brasileira, no Brasil temos os álbuns “Holy Land” (Angra) e “Roots” (Sepultura) que propõem esse diálogo. Qual sua relação com esses discos? O que o rock pode aprender com o samba?
Gustavo Di Pádua: O “Holy Land” foi um disco que me impactou demais. Eles trouxeram essa identidade e essa brasilidade. Confesso que demorei para curtir 100%, porque gostava muito do “Angels Cry”. Aquilo me cativava muito e achava que o Angra seguiria aquela linha. Eles vieram com extremo bom gosto e ótimas ideias. Foi um trabalho genial. É só ouvir novamente para sacar o que eles queriam dizer. Adorava a química daquela formação com o Andre Matos. Então, me impactou porque era novidade.
Naquela época, eu era muito heavy metal e essa brasilidade não estava incorporada no meu universo igual hoje. Eu já não tinha preconceito, tocava com várias pessoas. Agora, para o que o Angra fazia, isso me chamou atenção!
Já o “Roots”, que veio um pouquinho antes, eu acompanhava menos. Acompanhei mais o Sepultura na época do “Arise”. Sinto falta das melodias, sou apegado nessa parte. Me amarro no Sepultura, mas fiquei mais amarrado no “Holy Land”.
Sobre o que o rock pode aprender, precisa ter essa postura de que quanto mais bandas no mercado existem, melhor para o mercado. Isso fortalece. É igual o pensamento do pessoal do sertanejo. É mais fomento, mais público.
Já até cansei de falar sobre o fato de as bandas não se unirem. Prefiro focar em fazer minha parte, sabe? Já toquei até em banda de pagode! Não conheço a fundo o business do samba, mas já toquei com uniforme colorido e brilhoso em grupo de pagode! Era dourado! Eu com cabelo solto tocando violão! [risos].
Fiz um estudo sobre a harmonia do samba e entrar em um universo que não é o seu faz você sair da zona de conforto. Os caras do samba e do pagode sempre são muito alegres. Era alto astral, sempre com sorrisão. Comigo foi assim. Maior gritaria, cervejada! Um clima legal, mas não tinha a ver com minha personalidade. Fiz uns dois shows e não levei mais.
Todo mercado de sucesso tem muito a ensinar, especialmente na parte da mentalidade. Todo mundo deveria ser contra as barreiras e preconceitos musicais. Imagina se todo mundo se unisse? Você tem que fazer o que acredita. Tem gente que não vai gostar. Claro que agradar mais pessoas é melhor, mas é uma questão de experiência.
Tive a felicidade de pegar tudo que aprendi e conversei e trazer para meu universo. Colocar na minha guitarra. Provavelmente, minha linguagem brasileira de groove vem da minha vivência com artistas do pop, samba, forró, sertanejo, funk. Sempre fiz backing vocal para esse pessoal. Sempre imitei os sertanejos! Gosto, sabe? Se tem um violão em uma festa, vou lá e toco um sertanejo!
No caso do rock, tem aquela coisa da atitude rock ‘n’ roll. Tem gente que diz que quando era garoto tocava rock e agora faz outra coisa. Acho válido o cara abrir a mente e ir para outros lances, mas não tem essa de tirar o rock, é atitude, sabe? Se você não tem isso hoje em dia, talvez seja porque nunca teve. Não é só ligar o drive, tem que ter atitude e pegada no instrumento.
Ou seja, o rock tem coisas que são insubstituíveis para mim. O peso na medida certa, melodias e harmonias. Às vezes, pessoas acham que o rock é mais simples. Isso depende. As barreiras se quebraram e existe muito experimentalismo aí. Tem que rolar um bom senso e trabalhar para a música. A canção é mais importante. Não adianta forçar a barra para compor algo mais técnico.
Gustavo Maiato: Você tem dois álbuns lançados sob o nome “Gustavo Di Pádua”. O primeiro é o “The Stairs”, que é instrumental. O segundo foi o “O Outro Lado”, que é cantado. Você costuma dizer que o rock instrumental não é algo de nicho e o pessoal gosta muito. Como você analisa esses dois álbuns e a questão da música focada na guitarra?
Gustavo Di Pádua: Você pode ter um público reduzido no rock, mas ele é muito forte e fiel. Curte muito as bandas, sabe o nome dos integrantes. É outra vibe. Nas bandas de pop, o pessoal é fã, mas é diferente. Você vai em um show pop, mas curte a night. Conhece o cantor e tal. No caso da guitarra, podemos considerar um nicho, mas é muito forte.
Fico feliz com o feedback que tenho com meu trabalho. Poder emocionar as pessoas com minhas melodias e histórias tocadas na guitarra. Simplesmente amo fazer instrumental porque tenho muita liberdade. Consigo tocar melodias rápidas que a voz não alcança, e ainda assim ter feeling. Discordo dessa história que a música instrumental não tem letra, então não tem história. Claro que tem! É canção!
Interpreto a música instrumental assim. É uma intro, melodias, tem o solo. Não tem barreira, faço o que quiser. O primeiro que lancei foi o “The Stairs”, que me dá muito orgulho. Ele é todo instrumental e conta a história da minha vida de um determinado ponto até outro. A capa traduz isso, cada música é um degrau. Vou trazendo esse clima das minhas lembranças e fases que vivi.
O álbum me deu um resultado muito forte, por isso acho que o instrumental tem um mercado forte. Pelo menos para mim. Posso dizer que quando comecei a lançar isso me abriu tantas portas! Toquei com vários artistas pop por causa do meu álbum. Impactou a galera! Viajei e participei até de concurso mundial – o Guitar Idol – por causa dele. Inscrevi uma das músicas e a galera ficou louca! Cheguei em Londres e pude fazer muita coisa, rolou entrevista em rádio e tudo.
Até hoje, toco essas músicas em workshops. É um álbum especial para mim. Desde 2008 para cá, fiz apenas 3 álbuns com o nome Gustavo Di Pádua. Se você quer me conhecer, ouve o “The Stairs”. Você vai reconhecer minha linguagem que também está nas bandas que toquei, como Almah, Endless, Aquaria etc. Tocar guitarra é o que mais amo fazer. Gosto de cantar também, mas guitarra é um amor muito forte. Poder traduzir sentimentos e melodias, me emocionar depois de gravar!
No caso do “The Stairs”, comecei com a faixa-título. Compus enquanto corria na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio. É um arranjo complexo. Ela foi motivada por um grande amigo meu chamado Vitor Rangel. Ele ficava tipo: “Você tem que gravar vídeos tocando guitarra!”. Aí, gravei a “Spiritual Lesson”. Tenho uma tatuagem no braço que é essa música. Foi a segunda que compus.
Depois comecei a compor pensando no conceito do álbum. Fui para a “Hopeful” e no final, quando passou os desafios da história do disco, vi que faltava uma faixa mais convidativa. Aí surgiu a “Insight”, que é uma que agrada a todo mundo. Ela tem um groove muito envolvente, é dançante, tem peso de guitarra. Mistura elementos legais, trouxe resultados legais.
Gustavo Maiato: Nessa época do “The Stairs”, você esteve no Aquaria também, certo?
Nessa época, toquei no Aquaria e gravei o disco “Shambala” também. Foram vários lançamentos juntos. Foi um ano antes do “The Stairs”, em 2007. Continuei produzindo e gravei meu segundo disco, chamado “O Outro Lado”. Foi uma época mais punk, sabe? É um álbum mais denso e canto nele. Compus todo o álbum de maneira bem rápida. Comecei a me envolver e voei! Isso é um problema para mim, porque foco tanto em um projeto que as outras coisas vão parando.
Financeiramente, isso é complicado. Principalmente para um artista independente. É um investimento. Uma vez quando minha mulher viajou no final de semana, compus quatro faixas! Depois, mostrei para ela a “Quarto Escuro”, que tem clipe e toco com guitarra sete cordas. É uma história densa, fala sobre sequestro. Quando ela ouviu, disse que era bonito, mas não tinha curtido tanto.
Dei vazão para várias ideias loucas da minha cabeça. Fui muito para o groove, trouxe elementos que gostava. E o melhor das letras é poder trazer a história para o ouvinte. Não sou contra trabalho cantado. Adoro cantar! Gosto de escrever em português, porque tenho facilidade. As histórias conectam as pessoas, gosto de passar mensagens positivas. Faço inspirado na minha bagagem. A ideia é fazer as pessoas pensarem. O rock tem esse poder.
Gustavo Maiato: Como foi sua experiência no Aquaria?
Na minha opinião, o “Luxaeterna” – que eles lançaram antes de eu chegar – foi incrível. Todos eles fizeram um trabalho muito bonito. Com uma linguagem cheia de orquestrações. Trouxe uma novidade, no meu entendimento. Não é o que mais curto, gosto mais do “Shambala”. Acho que nessa época já não estava mais no Endless. Foi meu primeiro projeto de heavy metal. Agora, no Aquaria, foi uma época super intensa. Prazos curtíssimos, entrega de disco, faz solo, correria, do nada pinta o show.
Em toda banda que entrei foi assim! Tem o disco, mas tem o show! Aí você tem que gravar o disco, mas tirar o show todo! [risos]. Você toca músicas que não foi você quem concebeu. Conheci pessoas importantes. O “Shambala” foi legal porque estávamos bem como banda, tirando foto e tudo. Lembro que enquanto o Bruno e o Alberto estavam trabalhando em um estúdio, em outro eu estava com o Roberto gravando as guitarras. Foi algo bem sintonizado, mas aí do nada acabou. Foi muito estranho, o Bruno foi mixar o álbum fora e a vida dele foi para lá. Aí a banda acabou.
Gustavo Maiato: Sua banda mais famosa mundialmente é o Almah. Você gravou o fenomenal disco “Unfold”. Tocou no Rock in Rio e tudo! Como surgiu o convite para participar da banda? Como vocês escreveram o disco?
Gustavo Di Pádua: O convite foi assim. Estava jantando com um amigo e o Edu Falaschi me ligou. Eu estive com ele antes em eventos de Expo Music, mas não conhecia. Tínhamos amigos em comum. Aí, ele falou do Almah para mim. Eu já tinha ouvido os discos anteriores e gostava muito. Sempre gostei do trabalho dele, então fiquei amarradaço com o convite.
Gustavo Maiato: Foi na época que o guitarrista Paulo Schroeber precisou se ausentar por problemas de saúde...
Gustavo Di Pádua: Sim, ele foi um grande guitarrista. Eu não acompanhava essa história na época. Ele contou a história e disse que ia me enviar o material. Eu fiquei muito feliz, conhecia o Edu na época do Angra, claro. Eu ouvia no álbum o Almah, e depois toquei! Foi uma honra! Ele foi muito simpático comigo. Ainda não existia nada do “Unfold”. Participei integralmente da história do disco, isso que foi legal. Me orgulho da história que fiz com o Almah. Fiquei uns 2 anos na banda e construí uma história legal.
Acho que crescemos muito naquele período. A banda estava se projetando muito bem, estávamos arrebentando. Lembro que ouvi primeiro o “Motion”, que é o que mais gosto. É bem moderno, tipo o “Unfold”. O Almah estava dando sinais de novos ares e topei. Começou a ralação, tinha show para caramba. O Edu me explicou como era o esquema da banda. Acertamos tudo, gostei da proposta, topei apostar. Quando aceito um projeto, ele vira como se fosse meu.
O Edu Falaschi é um cara trabalhador, adoro isso. Essa parte foi intensa. Trabalhava demais. Tirei o disco todo pelo disco e não com arquivos isolados! O primeiro show foi no Metal Open Air, no Maranhão. Sei que houve um problema no evento, mas não nos afetou. Parece que quando tem treta, estou fora! [risos]. Eu tirei o “Motion” e foi difícil para cacete! As guitarras do Paulo são absurdas. Encarei o desafio, tirei a porra toda!
Fomos para o ensaio. Adorava o Marcelo Barbosa, já tinha uma afinidade com ele de antes. Provavelmente, teríamos uma química. No começo, também tinha o Felipe Andreoli. Para mim, foi estimulante. Gosto de todos. O batera Marcelo Moreira eu não conhecia ainda. Ele é super criativo e trouxe novidades.
O primeiro ensaio foi lindo. O Felipe me surpreendeu muito. Ele é muito gentil e relax, apesar de parecer sério. Ele toca muito, com groove e pegada. Tivemos a sensação de que estava tudo perfeito. O Edu falou para eu tirar as bases e improvisar os solos. Isso facilitou, porque os solos do Paulo eram cabulosos! [risos].
Gosto de tirar solo, mas prefiro construir e desenvolver. Fui me afinando com a linguagem dele, mas não tive muito tempo. Não era o foco principal tirar, sabe? Só tirei para os shows. O foco principal era o álbum. Mas foi uma experiência legal. Tem músicas legais como a “Birds of Prey”, com dobras de guitarra bacanas.
Da época do “Motion”, gostava muito da “Days of the New”. A do clipe é legal também, a “Living and Drifting”. Esse álbum tem muita música boa. Aí, entramos na composição do “Unfold”. Começamos na produção. Fomos fazer músicas e compus logo duas. Uma delas, apresentei para a banda. Eu a tenho ainda! Era legal, mas não era exatamente o que o Edu queria.
O Marcelo Barbosa tinha ficado amarradão na música! Então, fiz outra música chamada “I Do”, que entrou no “Unfold”. Foi um tiro só! O Edu pirou. Lembro que estávamos na sala produzindo e mostrei. O Edu foi mostrar para o Tito e para o Rafael Dafras. Já não era mais o Andreoli nessa época. Aliás, a banda sofreu transformações muito rápidas. Foi um baque para mim a saída do Felipe na época. Nunca é bom, né? Sempre que acontece algo assim e porque tinha coisa errada. Até harmonizar de novo, demora.
Eu estava disposto a dar meu melhor e fazer a banda crescer. Toco em trabalho solo, mas sempre gostei a vibe de estar em uma banda.
Gustavo Maiato: Você lembra detalhes da composição de “I Do”? Você se inspirou em algo que estava ouvindo?
Gustavo Di Pádua: Isso é um papo legal, porque não faço isso, sabe? Até tenho receio de contar que escuto pouca música. Podem pensar que não gosto de ouvir outros sons. A real é que trabalho com música, estou sempre produzindo bandas e projetos. Considero até saudável não ouvir tanta coisa, porque acabo não me influenciando.
Nesse caso do “I Do”, eu estava focado totalmente no Almah. Queria fazer uma música com melodia linda e peso animal! O riff é pesadaço, com refrão legal. Essa melodia do refrão deve ter saltado na minha mente no começo, aí gravei. Se você tem um trecho inspirador, já é meio caminho. Lembro que a melodia do verso que apresentei era mais grunge, meio moderno, tipo Alice in Chains. Aí o Edu mudou essa melodia para algo mais metal. O resto é igual!
Tenho uma sacada que trouxe para o Almah que são essas melodias meio tortas, com harmonias diferentes. É um pouco da sacada do Paulo, ele tinha uns pensamentos doidos e bem feitos.
Gustavo Maiato: Acho interessante nas guitarras do Almah aqueles licks entre os versos que parecem pequenos solos...
Gustavo Di Pádua: Muitos! Esse processo foi muito legal. O Edu é muito bom para produzir guitarra. Ele é conhecido por estar com grandes guitarristas ao lado. Especialmente em projetos dele, ele consegue direcionar mais. Não sei se no Angra era assim. A vibe dele é ser muito intenso. Gosto disso. Ele falava que tinha uma ideia e eu ia atrás. Agora, ele deve estar fazendo isso com o Roberto Barros. O padrão dele é pegar um guitarrista como braço direito e ir criando.
Ele é muito aberto, fluido e criativo. Sempre com foco na música. Não tenho nada a dizer, a química fluiu muito bem. A parte de composição e arranjo foi ótima. Esses riffs que você disse foram ideia minha! Ele estava cantando, aí do nada eu vinha com um arpejo! Ele ficava tipo: ‘Caralho, faz isso! Bota aquela pentatônica!”. Ele vibrava! Dizia que se fosse guitarrista, só tocaria as pentatônicas abertas! Que você pega dois desenhos ao mesmo tempo. Eu faço muito essas frases de repetição de nota. É muito da minha linguagem de criação, algo meio dissonante.
Uma característica do “Unfold” e particular minha é esse lance de ser dissonante, mas ao mesmo tempo doce. Tem uma melodia, mas com equilíbrio para a música. É algo muito intenso, depois mais soft. Algo muito torto, depois resolve. O Almah tem muito isso nos solos. Agora, além da “I Do”, tiveram outras que assinei.
Gustavo Maiato: Como você acha que seria um segundo disco seu no Almah? Você teria mais participação?
Gustavo Di Pádua: A sequência natural das coisas seria essa. Certamente seria uma evolução daquilo que vínhamos fazendo. Ela algo muito acertado. O “Unfold” para mim foi algo que gostei muito da sonoridade. Não que os anteriores não tenham isso. Fizemos um trabalho muito legal, direcionado. Os shows na Europa foram incríveis. Imprimi minha personalidade no palco. Toquei meus solos, curti muito. Depois, eles fizeram a turnê já sem mim aqui no Brasil. É uma pena, por que seria legal ter tocado no Brasil o álbum. Mas aconteceu que eu saí da banda.
Gustavo Maiato: Outra característica marcante foi o trabalho de bateria do Marcelo Moreira...
Gustavo Di Pádua: Sim, foi muito louco! É muito bom quando temos produtores envolvidos. Produzi as guitarras que fazia. Quando você produz alguém, produz pensando nesse alguém. Faz o arranjo complementar para que esse outro alguém soe lindo. Essa história da bateria foi curiosa.
Quando fizemos a pré-produção, o Edu trouxe outra linguagem para as levadas. Era menos fora da caixinha igual o Moreira. Ele foi insano e chocante! Como sou a favor da criatividade, pode até parecer algo diferente, mas ele tem sua própria linguagem. Vejo que foi a melhor opção. Quando chegou a gravação do Moreira para eu gravar em cima, foi uma nova etapa muito enriquecedora.
Adequei tudo ao que ele fez. Posso dizer que eu e o Moreira fizemos um trabalho muito ajustado. Ele criou coisas que não tinham, aí coloquei outros riffs em cima. Por isso o Almah e o “Unfold” foi tão legal assim. Um se ajustava ao outro. Fiz arranjos de guitarra e o Marcelo Barbosa vinha em cima, por exemplo.
O Moreira tinha um jeitão! Sempre lá no laptop dele. Tenho altas lembranças boas. Agora, não sei o que aconteceu, mas quando ele foi gravar efetivamente o álbum, a bateria chegou de um jeito todo louco! [risos]. Todas as músicas têm uma levada muito percussiva e foda! Caiu minha ficha! Elevou tudo, ficou mais legal. Na hora, vi que precisaria me adequar. Pirei na gravação da guitarra. Foi um processo excelente.
Tem histórias curiosas! Em uma música, cheguei a criar um solo lindão! Mas aí depois descobri que tinha vocal naquela época! Era uma balada, acho que a “Warm Wind”. Virou um solo fantasma! O Edu disse que ali teria letra e foi frustrante! O processo todo foi muito legal, fiquei muito feliz.
Gustavo Maiato: Como era o processo de divisão das guitarras entre você e o Marcelo Barbosa?
Gustavo Di Pádua: Isso foi muito natural. O Edu meio que dividiu como ele achava no início. De modo geral, estava muito presente com ele fazendo as músicas. Não lembro exatamente, mas tem uma história legal sobre isso! No solo de “Believer”, ia ser ao contrário. O Marcelo Barbosa ia fazer minha parte e eu a dele. Isso era o que estava previsto.
Aí, o Barbosa me pediu para trocar. Ele estava tentando se familiarizar com aquela base, mas tinha gostado mais da outra. Isso acontece. Tem que rolar essas coisas. Não tem essa de já estar definido. Não tinha nada fechado. Aí peguei a base e falei: “Porra! Acho que entendi porque ele quis trocar!” [risos]. Era uma base muito rápida. Ele faria de letra, claro, mas não se familiarizou muito com a harmonia.
Na minha concepção, fiz um dos solos mais legais do disco. Foi algo inusitado, que não esperava, mas para mim ficou algo bem legal. Trocamos e no final das contas ficou alucinante! Foi desafiador. A base é essa? Fechou, vamos trabalhar! Busquei dar meu melhor. O Barbosa arrebentou nos solos também. Ver o resultado foi legal.
Gustavo Maiato: Um dos pontos altos do Almah foi ter tocado no Rock in Rio em 2013. Como foi essa experiência?
Gustavo Di Pádua: Para mim teve um gosto mega especial! Primeiro, porque era em casa, né? Além de ser no Rio, era do lado da minha casa! Eu morava no Recreio e sempre tive um apego ao Rock in Rio. Era ali no Rio Centro, pertinho. Qual guitarrista de rock não sonha em tocar no Rock in Rio, né? Não tem um! Sonhava em tocar lá e foi um dia muito especial. Foi um sonho, vibrava o tempo todo.
Lembro que eu estava até com muita dor estar estudando muito para esse show. Dei uma pausa nos outros trabalhos. Na produção, fico muito com o mouse na mão e isso dói às vezes. Tomei uns anti-inflamatórios, que foi algo que precisei em algumas épocas da minha carreira. Me diverti muito e quebramos tudo! No dia seguinte, viajei para a Expo Music! Fiz a viagem cansado mais feliz de todas! Tenho certeza que foi algo importante para o Almah como um todo. O Edu estava lá pela segunda vez. Foi uma experiência fantástica que pretendo repetir!
Gustavo Maiato: Você chegou a ter contato com o pessoal de outras bandas no Rock in Rio? Como foi os bastidores?
Gustavo Di Pádua: Tive contato com o pessoal que tocou no nosso dia, como o Dr. Sin e o Hibria, que tocamos juntos. Fizemos uma jam no final do show. Quando cheguei em casa depois, me vi na TV e foi muito legal! Eu me vi lá com minha Fender branca! Também tive contato com a Heineken! [risos].
Depois, fui tocar baixo no Metallica! [risos]. O Trujillo foi embora! O pessoal brinca muito porque somos parecidos. É o que dizem! Já falaram que eu pareço com o Pepeu Gomes também. Uma vez, tirei foto com ele e realmente parece! Nunca encontrei o Trujillo, mas de qualquer forma é engraçado. Ele parece ser bem gente boa. Os olhos parecem”.
Gustavo Maiato: Como foi a turnê na Europa com o Almah?
Gustavo Di Pádua: Passamos por alguns perrengues. Às vezes, são hotéis incríveis, outros nem tanto. De um modo geral, não é legal glamourizar as coisas. Estávamos nos projetando. Agora, na Europa, todas as casas de show, mesmo pequenas, tinham ótimas estruturas de som. Aquela foi minha despedida da banda. Naquela época, eu já tinha comunicado que ia sair. Não ia deixar os caras na mão.
A viagem foi um banho de cultura. Viajei pela Europa e conheci vários lugares. Deu tempo de dar uma volta, conhecer uma galera. Só tenho coisa boa para dizer. Você dorme em um país e acorda em outro! Do nada está em Paris! [risos]. Tive experiências também no Brasil com o Glory Opera, de Manaus. Foi a mesma coisa, tem horas que é um show lotado, outros são meio furados. Aí, do nada pode cair um show. Tem que ser grato pela oportunidade. Não tem nada de ruim. Tenho fãs desses países que me acompanham até hoje.
Gustavo Maiato: Você lembra quando decidiu sair do Almah? Como você chegou nessa conclusão?
Gustavo Di Pádua: Não lembro exatamente quando comuniquei, mas lembro de vários momentos que conversamos internamente sobre isso. Conversamos muito e lembro que estávamos em um aeroporto e rolou uma conversa mais séria sobre isso. O pessoal da banda pedindo para eu ficar.
Sou muito transparente, falei com todo amor do mundo. Disse que não ia ficar, a decisão estava tomada. Precisava fazer aquilo. Eu ia cumprir aquela turnê, mas não queria dar essa esperança. Claro que não foi da noite para o dia e sem pensar. Foi algo conversado. Foram conversas boas, para mim ficou um sentimento legal.
Com toda clareza, pude conversar sobre os motivos. Não precisava falar abertamente porque todos já sabiam. Parece brincadeira, mas não lembro dos detalhes de coisas que foram choques. Acho que ninguém gosta quando rola uma separação. Óbvio que houve atritos, mas me lembro mais das coisas legais.
Gustavo Maiato: Nada poderia fazer você mudar de ideia?
Gustavo Di Pádua: Naquele momento, não. Não foi algo sem pensar ou tentar fazer com o que incomodava mudasse. Jamais faria isso. Eu estava no time, sabe? Não ia deixar na mão assim. As coisas que estavam acontecendo não iam mudar, então não tinha jeito. Claro que escolhas são doloridas. Terminar um namoro é uma merda, né? É um relacionamento. Você é obrigado a tomar uma atitude. Se as coisas tivessem sido diferentes, claro que eu ficaria. Se algo está te fazendo bem, você segue.
Gustavo Maiato: O que dentro do Almah te incomodava?
Gustavo Di Pádua: Já me foi perguntado muitas vezes isso. As pessoas querem saber de mim e de todos sobre o que rolou de ruim. A galera adora isso. A famosa treta, né? Sendo sincero, não sou esse cara. Não gosto disso e não compreendo. Quando você sai de alguma coisa que ama, teve motivo. Não sou maluco, sou muito profissional e sério. O combinado é combinado.
Sou o que sou e posso errar. Embora saibamos que a tendência é acabar expondo as pessoas, mas esse cara não sou eu. Não vou falar do Edu senão pelo o que ele fez de bom. Eu nunca fui para a mídia falar sobre. Era outro momento, agora, posso falar um pouco mais. Óbvio que não concordava com as coisas lá. Mas não vou ficar falando detalhes, para tentar diminuir a imagem de alguém.
Realmente valorizo as coisas boas. É assim que é: quando uma merda acontece, estou longe. Se tem um falando mal do outro, tento resolver. Não só na banda, mas como um todo. Odeio ambiente de discórdia. Posso perder a cabeça, igual todo mundo. Outro dia, quase briguei no trânsito. Não gosto desse sentimento.
Gosto de fazer música e trabalho com isso desde moleque. Nunca fiz mais nada da vida. Sempre fui músico do rock, com muito orgulho. Comigo, ninguém nunca veio me falar que músico não é profissão. Desde os 14 anos sou assim. Quem me chama para uma banda, sabe que está chamando um cara profissional e comprometido. Não aprendi a tocar violão para pegar mulher. Minha parada é rock, ver as pessoas felizes e energizadas.
Quando faço um solo meu, preciso me emocionar. O Almah foi uma oportunidade de fazer isso acontecer. As pessoas pedem para autografar o CD porque gostaram do meu trabalho. Gostei muito do que fizemos juntos. Amo a música e gosto de ter um projeto onde todos estão na mesma vibe. Vivi isso com o Almah, mesmo que por pouco tempo.
Por amar tanto e ser profissional é que se houver qualquer dissonância ou insatisfação que gere tristeza, nesse caso, minha saída seria algo inevitável. Minha saída se deu por incompatibilidade de ideias, dissonâncias que naturalmente não tinham minha concordância. Optei por sair e foi uma escolha muito difícil para um cara como eu, que tem a guitarra e o rock no sangue.
Eu estava tocando com caras que gostava muito, mas tiro proveito disso. Olhando para o “Unfold”, tenho um baita orgulho. Sei que participei ativamente da produção do álbum. Gosto dos shows que fizemos, eu fazia backing vocal também. Por respeitar tanto meus projetos e respeitar a música, se algo estiver me deixando triste, preciso tomar essa atitude. Foi muito importante para mim naquele momento. Nada foi feito sem conversa, sem transparência.
Gustavo Maiato: Você chegou a acompanhar a carreira do Edu Falaschi depois?
Gustavo Di Pádua: Sei que ele está com uma carreira de bastante sucesso. Não acompanhei de perto, mas estou ciente. Vi alguma coisa do “Vera Cruz”. Recebi sugestões no YouTube. Vi coisas que ele fez antes com o Almah. A onda do último disco deles foi diferente. Acho interessante essa mudança. Quando entrei, a vibe estava se formando no “Motion” e se firmou no “Unfold”. Não sei por que eles mudaram, mas o Edu devia estar querendo fazer algo diferente. O Marcelo Barbosa agora está no Angra. Acho maneiro ver a galera crescendo e seguindo firme.
Gustavo Maiato: Hoje em dia, você se arrepende da saída? Se o Edu te chamasse para tocar, você aceitaria?
Gustavo Di Pádua: É difícil falar porque hoje em dia a cabeça de todo mundo é diferente. Ou seja, se fosse hoje, nada poderia ter acontecido. De qualquer forma, não me arrependo da minha saída. Não me arrependo de nada. Posso até errar, mas tomo decisões e são escolhas. O ensinamento que isso me gera me dá uma base para ter um progresso. Não adianta viver no conto de fadas.
Não dá para se manter na inércia e entorpecido. O crescimento vem daí. Das experiências, de como interpreta os problemas que teve. Já tive muitos problemas. Agora, a saída foi uma porrada para mim. Sair de uma banda é difícil, mas superei. Se eu voltaria? Não é o caso. Do jeito que era, se eu saí antes, não faz sentido voltar.
Minha mentalidade está diferente, as coisas poderiam ser conduzidas? Talvez. Hoje, posso dizer o quão foi bom. Não sei e os outros podem, mas eu posso falar com qualquer um deles tranquilamente. Não é porque sou bonzinho, mas porque aprendi com isso. Me acrescenta demais. Várias vezes, encontrei o Marcelo Barbosa e abracei ele. Uma vez, estava dando uma entrevista e do nada ele chegou por trás me abraçando! [risos]. O cara é gigante! Isso foi depois da minha saída.
É muito bacana esse aprendizado. Não é todo mundo que pensa dessa forma. Já tive outras bandas com outros momentos difíceis, mas não tenho essa personalidade de ficar citando os momentos difíceis. Valorizo outras coisas. Minha parada é a música! Fiquei muito feliz de ter tocado no Rock in Rio e gravado o “Unfold”. Contribuí para o crescimento da banda. Tem fã que me conheceu pelo Almah. Tinha uma projeção boa. Fãs meus passaram a conhecer o Almah também.
Agora, é uma ilusão você se divertir com uma treta. Já fui chamado de chato, por não ter treta. Mas é isso. Se você se conecta com violência, vai sofrer. Se se conectar com porrada, vai apanhar. Se tem uma briga rolando, eu saio de perto. Não gosto. Ninguém deveria gostar de ficar batendo boca. A coisa mais interessante hoje em dia é ver as pessoas falando mal uma das outras? Tem coisas que vendem mais do que outras. Cheguei a acreditar nisso. Vi que essas falas bizarras dão repercussão. O pessoal vibra, mas não sou eu.
Não estou falando que quem faz isso está sendo otário e vacilando. Tem o público dele. O cara às vezes foi injustiçado e está querendo desabafar. É uma oportunidade de conta e está sendo legítimo. Quem sou eu para falar como as pessoas devem ser. Não quero julgar quem faz o que eu não faria. O cara pode fazer. O repórter tem que perguntar e ir atrás. É algo interessante de saber. Se você não fala a treta, mas fala algo positivo, pode ser que o cara que veio armado para saber da porrada goste do que você falou também.
Tudo precisa ser baseado na conversa. Você pode falar na câmera? Até pode. É fácil entender e é a verdade de quem fala. Um fala mal do outro pela câmera. Ganha vários views, todos saem felizes. Você pode ser verdadeiro de diversas formas, essa que é a real. Eu não entro nessas paradas. Já me senti injustiçado em outras bandas e projetos na minha vida.
Esse é um papo mais profundo. Nada é só responsabilidade do outro. Tudo que acontece é responsabilidade sua também. Pode existir atritos e coisas que você discorda, que saíram do planejado, mas nunca expus isso. Pelo menos de forma espontânea. Não é o caso. A conversa é sempre válida. Falar a verdade é fundamental. Se eu não falo que estou puto com a pessoa e deixo para falar em entrevista, não é legal.
Gustavo Maiato: Você também tocou com artistas como Erasmo Carlos. Como foi essa experiência?
Gustavo Di Pádua: Só de estar ao lado do Erasmo Carlos, você já está aprendendo. A presença dele. É um cara doce, generoso e bacana. Ele é tudo isso que é para a história da música e do rock nacional. Para mim, foi uma honra muito grande. Uma história muito legal! Me convidaram para fazer uma participação como guitarrista substituto em um show no Teatro Rival, no Rio de Janeiro. Não teve ensaio!
Com a oportunidade, resolvi encarar. Precisei tirar muitas músicas. Hoje em dia, não faço mais o trabalho de sideman. A produção do Erasmo me ligou e tirei o show todo. Eu tinha outro show para fazer, mas coloquei um substituto lá. Eu fazia muitos trabalhos desse tipo naquela época. Todo repertório é difícil, aí vi quais solos seriam os meus e tudo mais.
Cheguei para o show todo feliz e, para minha sorte, a passagem de som acabou sendo o show inteiro! Isso foi algo inédito, nunca aconteceu comigo nem com ninguém! Era um guitarrista novo e passamos o show ali. Quando acabou o “show”, todos estavam com sorriso no rosto. Viram que eu tirei tudo. Estava 100% dentro do arranjo. Aí, aconteceu um negócio muito doido.
Tocou o telefone do produtor e ele ficou sabendo que o guitarrista que eu estava substituindo ia chegar a tempo para o show! Foi uma situação muito delicada. Algo aconteceu que ele podia tocar. Rolou um clima estranho. Me senti bem acolhido nesse dia. Eles se amarraram na minha. O maestro lá foi um amor. Esse show acabei não fazendo. Isso nunca deve ter acontecido com ninguém. Não foi culpa de ninguém. Foi uma porradinha para mim, né? Confesso.
De qualquer forma, fiquei com os caras no camarim e tal. Depois, participei da banda e comecei a fazer vários shows com o Erasmo Carlos. Fiquei de substituto um tempo, depois fui efetivado. Rodei vários lugares. Nessa época, trabalhava com muitos artistas. Toquei também com o Sidney Magal.
Lembro que criei um solo para uma música. Tinha uma balada chamada “Mulher” que ficou com uma melodia tão envolvente. Era uma vibe feminina, sobre o que ele falava na letra. Tocamos no “Altas Horas” e o maestro do Erasmo brincou dizendo que eu precisava solar mais! Foi uma baita de uma experiência.
Gustavo Maiato: Você também tocou com a Kelly Key! Como foi isso?
Gustavo Di Pádua: Sim! O máximo do pop! Tenho várias histórias com ela. Aliás, minha Fender branca é mega especial e comprei em 2001, em Volta Redonda, por causa dela. Cheguei até a ser o Ken no palco! [risos]. Eu fazia a voz do Ken da Barbie! Nessa época, tinha muitas guitarras, mas nenhuma delas, na minha opinião, teria a versatilidade que o pop precisava. Era outro timbre.
Eu tinha muita guitarra associada aos virtuosos, como Ibanez. Tinha uma do Nuno Bettencourt também, linda! Daria para fazer a Kelly Key com essas, mas queria uma guitarra que tivesse uma presença mais comercial para esse universo que eu estava entrando, sabe? É a coisa da aparência mesmo, isso conta. Se você chegar com uma guitarra de sete cordas em um show de funk, vai ter um preconceito inicial. Com a Fender, não tem preconceito! Você pode chegar em qualquer lugar que está tudo certo.
Usei essa guitarra depois no Almah! Era uma guitarra “pau para toda obra”. Nunca fui fã de Strato, mas a Kelly Key me converteu. Toquei com ela no Glory Opera também. No Almah, usei mais a sete cordas, mas a última música do Rock in Rio, por exemplo, foi com essa. Tocamos Led Zeppelin com o Hibria.
Voltando na história do Ken, foi hilário! Não coloquei fantasia, sou cantor! [risos]. Quando o artista sabe que eu canto, acabo sendo utilizado para essa função. Tinha música da Kelly Key que eu fazia sim vocais. Era tipo: “Vamos Barbie, vamos Barbie!”. Uma vez, teve um show acústico com a Kelly Key e foi muito legal. O guitarrista oficial dela era o Alexandre Reis, do Rio de Janeiro. Mas eu toquei algumas vezes. Ele me indicou, me recebeu na casa dele para mostrar as guitarras dela!
Nunca é fácil quando se trata com arranjo com banda e tudo mais. Fui colocando minha personalidade. Tinha um solo ou outro. Qualquer parte de guitarra era motivo para eu ficar amarradão! É pressão, sabe? Todos precisam estar capacitados para não fazer bobagem. É claro que o público aplaude mais a Kelly Key, mas quando os músicos entravam, todos gritavam! Viajei bastante e fiz muitos shows com ela. No acústico, fiz um arranjo de violão com o Alexandre. Foi muito legal.
Gustavo Maiato: Alguma música ficou marcada?
Gustavo Di Pádua: Tinha uma que eu adorava que era a “Anjo”! Lembro de muita coisa! Tinha uma hora, que eu botava uma pegada mais soul. Tocar isso era bem legal. A única vez que não curti tocar com a Kelly Key foi no Metropolitan, casa de show no Rio. Ela mudou de nome várias vezes. Eu estava com minha Fender lá e um uniforme de time de futebol! Era azul e branco, me engordava! [risos]. Era o figurino do show, cada um tinha um uniforme. Era uma camisa gigante!
Uma vez, no show do Almah, o Edu queria que eu usasse uma camisa com a logo da banda. Mas estava grande demais! [risos]. Camisa M não rola para mim, tem que ser P. Preciso me sentir bem, sabe?
Aquela música “Cachorrinho” era puro wah-wah! Chegava a dar câimbra no pé! Para tocar com ela, precisava de um massagista! Fiquei com tanto trauma de wah-wah que nunca mais usei! Aliás, usei em uma faixa do meu álbum instrumental “The Stairs”. Não sou muito fã do efeito, de qualquer forma.
Gustavo Maiato: Você também tocou com o Sidney Magal, como foi?
Gustavo Di Pádua: “Sandra Rosa Madalena” era um clássico, né? Não lembro direito. Tinha wah-wah também! Teve uma época, quando fui tirar o som dele, que eles me mandavam MP3s com ensaios gravados. Para ter referência dos arranjos. Tinha um riff que era legal lá. Me lembrava o jingle do Totobola. Era surreal, o saxofonista que tinha feito o arranjo da propaganda! Muito louco isso.
Gustavo Maiato: E quais são seus projetos futuros? Tem algo no forno?
Gustavo Di Pádua: No meu cronograma de vida artística, comecei com instrumental, depois fui para álbum cantado. Minha intenção era seguir gravando discos, mas pelo momento acabei mudando um pouco os planos, fiz alguns singles, coisas isoladas. Acabamos perdendo o foco quando fazemos muita coisa. Desde que lancei o “Tem Rock no Samba”, começou uma cobrança para eu compor um álbum instrumental novo.
Parece que lançar só single não resolve! No rock, parece que as pessoas precisam que você lance o álbum mesmo. Sinto que o álbum ainda faz toda diferença. Pode ser um pensamento antiquado meu, mas acho que a galera quer ver como você desenvolveu uma história. Não se contentam com uma história curta, querem ver seu conceito de como você está artisticamente naquele momento.
Isso é legal, estimula o artista a traduzir seu momento e seu espírito em uma obra. Então, não posso garantir, mas quero cada vez mais compor e entregar, sempre fazendo show e me divertir. O que mais gosto é compor e gravar solos. Em breve, vou lançar um novo disco instrumental. Tenho certeza que a galera vai pirar. Tenho várias ideias pré-produzidas. O conceito está definido, tem uma história legal.
O que me fez ser um cara reconhecido dentro da música instrumental é minha musicalidade, como misturo isso com ritmo, como interpreto com a voz. Quando veio a primeira ideia, comecei a compor uma parada muito louca e lembrei do “The Stairs”. Na época, teve um resultado muito bom. Tenho que saber o que me emociona. Isso é o mais importante. As pessoas se identificam comigo por causa disso. A coisa bate, sabe? Estou unindo o melhor dos mundos, pegando uma coisa mais moderna, mas continua sendo aquela melodia que você pode ouvir no carro.
Conto com vocês para compartilhar e fazer chegar o mais longe possível. Sugiro ouvir o “The Stairs”, porque você vai me conhecer melhor. Admiro o Gustavo daquela época. Estou sempre me desafiando, mas preciso me emocionar para admirar meu trabalho. Sou fã do meu trabalho, acho que faço com muita verdade. Procuro extrair a verdade, lembro que ouvi meu primeiro elogio muito cedo! Tinha estúdio com fita cassete! Lembro que me falaram que quando me escutavam, sabia quem era. Tem que ter identidade. Meu timbre é aquele. Claro que o gosto muda, mas não mudei muito.